É muito tentador discutir a coisa do Cyber Agreste e do Sertão Punk. Menino, em um mundo onde se cobra tanto que as pessoas tenham opinião sobre tudo, e onde, neste recorte específico, você está na categoria de pessoas que sempre tiveram voz… é muito fácil cair nessa tentação.
Mas sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Nada, quem tem a dizer é a Gabriela Diniz, o Alec Silva, Alan de Sá, o Ian Frazer, ou outros autores nordestinos que tem a dizer a respeito (esses foram os que eu li ou vi). E a Lidia Zuin, do artigo que começou a discussão (e que bom que se esteja discutindo isso) e os autores que fazem parte dessa discussão de forma mais direta, por um outro aspecto.
Mas eu fui lendo e fui vendo e fui pensando e me deu muita vontade de falar de umas coisas. Mas essas coisas não tem nada com nordeste não, porque eu não entendo disso. Do que eu entendo é desse meu quintal chamado Grande São Paulo.
Aquilo que vi o povo do sul/sudeste falando em suas distopias, são coisas muito presentes aqui, no sul e sudeste. São questões territoriais daqui que eles projetaram lá.
Seca
Em 2019, nada é mais paulista do que a seca. A crise hídrica, a estiagem, as pessoas bebendo água pesada porque os reservatórios chegaram nesse ponto mais baixo, do lodo tóxico, do chamado volume morto. A umidade do ar, hoje, está, enquanto escrevo isto, em 23%. Deveria estar entre 55% e 60%. As pessoas desmaiam na rua e os hospitais ficam cheios de gente com problemas pulmonares. Uma estiagem atrás da outra, e as chuvas acontecendo torrenciais em períodos curtos demais para reabastecer as represas.

Falar de seca no nordeste não faz o menor sentido. A seca é um problema nosso. Mascarado por um governo aliado aos empresários, na mistura entre poder público e privado que é característica das corporações do cyberpunk, com direito a racionamentos de água que não são anunciados, venda de água adulterada nas distribuidoras, manobras políticas para deixar comunidades mais distantes sem água para garantir a água no centro, enquanto alguns ricos o bastante para burlar a lei deixam água potável de poços artesianos ser jogada no meio fio por não ter onde mais acumular essa água…
Sério, não é um roteiro ficcional gente. São os últimos cinco anos de crise hídrica em São Paulo.
Eu entendo que gente daqui esteja aflita para falar sobre o tema da seca, porque estamos vivendo isso. Mas não vejo porque buscar secas distantes histórica e geograficamente, quando temos no nosso quintal toda a secura necessária para criar.
Uma mistura de questões políticas, aquecimento global, destruição do meio ambiente… e toda a ficção distópica baseada na seca acontecendo aqui no meu quintal, no Grande ABC Paulista, na Grande São Paulo.
O Crime Sacralizado
Eu queria começar falando sobre Gino Meneghetti. Meu avô me ensinou sobre o bom ladrão Meneghetti quando eu era bem criança. Meneghetti, diria meu avô, era um exemplo de cidadão. Indignado com a injustiça e as questões sociais, roubava apenas dos ricos e poderosos, e era um herói com suas fugas espetaculares e histórias aventurescas tanto de roubos quanto de como enganava a polícia – ele tirou um documento falso e com ele conseguiu uma certidão de boa conduta da própria polícia que o perseguia! Meneghetti chegou no Brasil já fichado pela Interpol. Só era violento contra a polícia e os que cometiam maldades com os trabalhadores. Seus filhos se chamavam Spartacus e Lenine, se quiser ter mais certeza do componente de justiceiro social do criminoso. A última vez que foi preso tinha noventa anos de idade. Declarou: “Só me interessa roubar dos ricos, e tirar joias, que são bens supérfluos que só servem para alimentar a vaidade”
Tudo tem um pouco de lenda e um pouco de certo. Mas Gino Meneghetti, imigrante italiano e ladrão profissional desde os dez anos de idade em Pisa, o “Gato de Telhado”, é só um de uma longa coleção de criminosos que podem servir de inspiração a qualquer escritor. Mas ainda mais para qualquer escritor que anda pelas ruas de São Paulo, olhando os mesmos telhados por onde correu o Bom Ladrão.
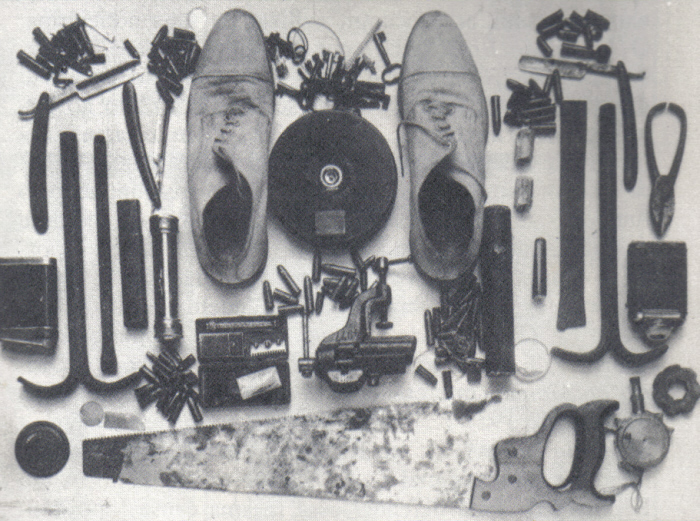
Olha, eu vou ser bem sincera. Eu sei que alguém é burguês, mas burguês mesmo, do tipo burguês subtipo safado, quando diz não ter medo da polícia. E com a violência policial e seus números aviltantes, somado ao fato de que onde o Estado não chega, o poder paralelo domina, todo mundo aqui conhece histórias onde justiceiros e monstros se misturam. Humanos, profundamente humanos, traficantes e facções criminosas fazem parte de todo tipo de história. Os computadores roubados da escola e devolvidos pelos traficantes é um exemplo de história que se repete ao ponto de virar um motivo, um tropo. Ou a facção que decide que não quer a polícia no bairro e começa a punir os agressores de mulheres. Ao mesmo tempo, as histórias de terror são infinitas. Não precisa ser Lampião para atirar no chão e mandar que dancem. Pode ser o Juninho, o Cabeça, o Corintiano ou o Santista, o Jeremias ou o Bill. Cortesia do seu traficante local, um pedaço de orelha mandado pelo correio ou uma cabeça em cima de um poste.
Qualquer fascínio que alguém daqui sinta pela figura do criminoso social é fácil de entender, de novo. Mas ao invés de projetar em outro tempo e local, todo o elemento distópico necessário está bem aqui.
(eu escrevo histórias que se passam nos 80 quilômetros de favelas do sprawl de Vista, onde César e seus centuriões são o poder verdadeiro, sendo vilão de umas histórias e contratante dos protagonistas em outras, sempre um criminoso poderoso. As descrições de Vista são influenciadas por… Mauá, principalmente, pelos lugares onde eu cresci andando e por aqueles onde vivi sendo professora. Tem um pouco de Seattle e Tóquio, mas tem um muito mesmo de Grande São Paulo)
O Povo e o Lugar
Você conhece os caiçara? A cultura caiçara é viva, em luta contra os grileiros e cheia de tradições extremamente intensas. Muita coisa da cultura caiçara permanece em coisas que fazem parte do cotidiano desse chão aqui.
E os Quilombos do Cafundó, Fundão, Ivaporunduva, Campinho? Eles ficam todos no sudeste – sul.
Vale do Jequitinhonha, Vale do Paraíba. O sertão tem o gosto da cana de açucar e da fumaça acre da queimada. Da taipa de pilão e de mão. O cerrado logo ali em frente. As questões sociais gritantes. O artesanato riquíssimo.
Qualquer um do sudeste que sente necessidade de falar “do povo”, poderia fácil basear um mundo de histórias nesse lugar, aqui tão perto e tão invisível, o sudeste que o sudeste tenta erradicar porque não fica bonito na foto higienista.
Acho que isso é tão grave quanto essa visão distorcida do resto do país que é muito comum em quem é do sudeste. Existe um apagamento das manifestações populares e da cultura aqui da região, que é muito intenso. Porque “não pega bem”. Porque parece primitivo. Porque é macumba. Porque não é europeizado e não é pasteurizado. O silenciamento de muito do que é parte de quem somos e do que faz o nosso território, porque não se encaixa na narrativa oficial de “locomotiva do país” que depende de uma noção falsa de que os outros seriam “atrasados e primitivos”.

Como é que eu posso querer falar do território do outro sem conhecer meu território? Acredito que o chamado por escrever sobre o território é muito forte. O chão como personagem. O meu chão, o do outro, o chão que tá lá longe. Mas é preciso sentir o gosto. Saber o cheiro do vento. E para conhecer longe, eu preciso entender perto.
Eu ainda quero escrever sobre o aracati, porque ele faz parte da minha memória afetiva mesmo eu nunca tendo ido ao Ceará. Mas para eu falar do aracati, preciso entender o vento de viração que trás a chuva por cima da Serra do Mar. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que foi quase destruída, e cada pedacinho dela é um mundo.
Não é que não se possa escrever sobre o longe e o que não se viu. Mas é preciso entender o espírito dos lugares. E como conhecer o longe, se não parar para ouvir os espíritos sentados nas calçadas do meu bairro? Porque seja o que for que eu escreva, vai estar marcado por escarpelinos, favelas, granito cinza, vento de chuva, quaresmeiras, bem te vis, greves e fábricas, o céu pegando fogo.
Sério gente. O céu pega fogo todas as noites onde eu moro. E para descrever qualquer outro céu, preciso primeiro sonhar este céu em chamas. Para entender os céus de outras pessoas é preciso vestir e dançar este céu.

Conhecer o movimento do voo das andorinhas das casas que fazem ninho na minha rua me fizeram enxergar os desenhos de voos possíveis em naves espaciais e em demoiselles steampunk.
Mas olhar o território é desvestir certezas. É olhar as histórias de frente e aceitar o que vai ver. Enquanto ficar arrotando que “non ducor, duco” e repetir slogans ufanistas, não vai viver o território, e não vai conseguir escrever, criar, desenhar ou o diabo que for, com a pulsação local.
Eu entendo de verdade a ânsia em escrever certas coisas. Coisas de longe, inclusive.
Estou aqui enroscada em Rusalkas e lendas do leste europeu mais do que nunca. Mas os rios que eu conheço e que vão dar forma para as minhas rusalkas são os rios com que eu cresci, e por mais que eu estude os rios do leste da Europa, o que eu vou escrever vai falar das minhas vivências de bicho fora do lugar aqui, neste espaço tempo.
Para muita gente paulista, existe um “nordeste mítico” terra dos pais ou avós, parado no tempo da memória da migração. Esses lugares das memórias nos forjam como somos, mas não são os territórios de origem. Essas memórias afetivas são parte do lugar onde estão sendo contadas agora, e falam das vivências deste território, e são projetadas nas necessidades e urgências de nossas vivências neste aqui e agora.
No que a minha história moldou meus olhos?
O que te dá a urgência de escrever algo? Será que não é o tempo de questionar, de onde vem o que te movimenta no sentido de uma determinada criação? Eu entendo muito um paulista querendo escrever de seca e criminosos míticos, porque é a nossa vivência contemporânea.
Mas se eu entendo porque sinto essa necessidade, seja para escrever uma história que se passe aqui, no Ceará ou em Marte, eu tenho como pesar que aquilo que eu escrever fala da minha história, fala do rio da minha aldeia, antes de falar do território do outro.
É o se perguntar: porque eu quero contar esta história? E de todas as maneiras de contar esta história, qual será a minha forma de fazer isso?
E talvez seja no mínimo de bom tom não acreditar que é tudo bem sobrepor meu território em cima do território do outro sem questionar, sem entender o significado disso na vivência do outro.

